Prof. Gustavo Cordeiro
A indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal coloca em evidência um dos temas mais estratégicos para quem estuda Direito Constitucional visando concursos de elite. Não se trata apenas de decorar artigos da Constituição: trata-se de compreender a engenharia institucional que equilibra independência judicial e controle democrático, um dos pilares do Estado de Direito brasileiro.
Bancas examinadoras como CESPE/CEBRASPE, FCC, FGV e VUNESP adoram explorar esse tema em questões que testam não apenas conhecimento literal das normas, mas capacidade de análise sistêmica. Diferenças entre o procedimento do STF e dos demais tribunais, requisitos constitucionais versus legais, crimes de responsabilidade versus crimes comuns, competências do Senado — tudo isso aparece recorrentemente em provas para juiz, promotor, defensor público, delegado e procurador.
Dominar esse conteúdo significa garantir pontos preciosos em questões que eliminam candidatos despreparados. E mais: significa entender como funciona o controle recíproco entre Poderes, tema que permeia toda a Teoria da Constituição e o Direito Constitucional Orgânico.
Três requisitos constitucionais: muito além da idade
O art. 101 da Constituição Federal estabelece que o STF se compõe de onze ministros escolhidos dentre cidadãos que atendam simultaneamente três requisitos: mais de 35 e menos de 70 anos de idade, notável saber jurídico e reputação ilibada.
O requisito etário é autoexplicativo, mas sua lógica merece atenção. O limite mínimo de 35 anos dialoga com a necessidade de maturidade profissional e experiência acumulada. Já o limite máximo de 70 anos conecta-se à aposentadoria compulsória aos 75 anos prevista no art. 100 da CF, assegurando que cada ministro possa contribuir por período minimamente razoável antes da aposentadoria obrigatória.
O notável saber jurídico é conceito jurídico indeterminado que exige reconhecida excelência técnico-jurídica. Não há exigência de formação acadêmica específica, embora mestrado e doutorado agreguem valor à análise. Jorge Messias, por exemplo, possui mestrado e doutorado em Direito pela UnB, além de extensa trajetória na Advocacia-Geral da União, incluindo atuação como Consultor-Geral da União e Advogado-Geral da União. A experiência prática em contencioso constitucional, produção acadêmica e reconhecimento pelos pares são elementos valorados nessa avaliação.
A reputação ilibada exige idoneidade moral, ausência de condenações criminais transitadas em julgado e histórico de conduta ética irrepreensível. A sabatina no Senado serve, entre outros propósitos, para escrutinar esse requisito mediante questionamentos sobre a trajetória pessoal e profissional do indicado.
Um ponto crucial que elimina candidatos em provas: não há exigência de origem profissional específica. Diferentemente da magistratura de carreira (que exige concurso público) ou do quinto constitucional dos demais tribunais (que reserva vagas para MP e advocacia), qualquer cidadão que preencha os três requisitos pode ser indicado ao STF. Isso significa que professores universitários, juristas sem exercício profissional ativo, membros de qualquer carreira jurídica ou mesmo não juristas com notável saber jurídico podem, em tese, ser nomeados.
Rito de nomeação: colaboração entre Executivo e Legislativo
A nomeação de ministros do STF materializa o sistema de freios e contrapesos mediante procedimento que exige atuação coordenada de dois Poderes da República. O art. 84, XIV, e o art. 101, parágrafo único, da Constituição estruturam esse processo em três fases distintas.
Fase 1: Indicação pelo Presidente da República. Trata-se de competência privativa e discricionária do Chefe do Poder Executivo. Não há vinculação a listas tríplices, sêxtuplas, consultas obrigatórias a entidades de classe ou qualquer outro filtro institucional prévio. O Presidente avalia livremente quem, dentre os cidadãos que preenchem os requisitos constitucionais, será indicado para a vaga aberta. Essa escolha possui inegável conteúdo político, mas está juridicamente limitada aos critérios objetivos do art. 101.
Fase 2: Sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Após a indicação presidencial, o nome segue para a CCJ do Senado Federal. Ali, o indicado é arguido sobre sua formação, experiência profissional, visão jurídico-constitucional e posicionamentos sobre temas relevantes. A sabatina é pública e permite que senadores avaliem não apenas o cumprimento formal dos requisitos, mas a adequação do perfil do indicado para a função. A CCJ emite parecer favorável ou contrário, mas esse parecer não vincula o plenário do Senado.
Fase 3: Votação no plenário do Senado Federal. A aprovação final exige maioria absoluta dos senadores, ou seja, no mínimo 41 dos 81 membros do Senado (art. 101, parágrafo único, CF). A votação é tradicionalmente secreta, embora a Constituição não imponha expressamente esse procedimento. Aprovado o nome, o Presidente da República edita decreto de nomeação, e o indicado toma posse no STF.
Essa sistemática revela sofisticado arranjo institucional: o Presidente escolhe livremente (legitimidade democrática direta), mas depende de aprovação parlamentar qualificada (legitimidade democrática representativa), assegurando que nomeações para o STF resultem de consenso político amplo, e não de vontade unilateral.
STF versus demais tribunais: onde a banca te pega
Uma das armadilhas mais recorrentes em concursos públicos é a confusão entre o procedimento de composição do STF e o dos demais tribunais. Questões mal elaboradas ou candidatos apressados frequentemente atribuem ao Supremo regras aplicáveis apenas aos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e Tribunais do Distrito Federal.
O quinto constitucional, previsto no art. 94 da Constituição Federal, determina que um quinto das vagas nos TRFs, TJs e TJDFT seja reservado a membros do Ministério Público e advogados com mais de dez anos de carreira. O procedimento envolve lista sêxtupla elaborada pelos órgãos de representação das classes (OAB para advogados, associações do MP), lista tríplice formada pelo tribunal e escolha final pelo Chefe do Poder Executivo dentre os três nomes.
Esse mecanismo não se aplica ao STF. A composição do Supremo é inteiramente livre, sem cotas por origem profissional. Todos os onze ministros são escolhidos pelo Presidente da República, sem listas tríplices, sem participação de entidades de classe, sem filtros corporativos. É perfeitamente possível que todos os ministros sejam oriundos da mesma carreira — embora historicamente haja certa diversidade informal.
Outro diferencial importante: enquanto nos TRFs e TJs há vagas de carreira (preenchidas por juízes promovidos) e vagas do quinto (preenchidas por MP e advogados), no STF todas as vagas são preenchidas pelo mesmo procedimento. Não há “vaga de carreira” nem “vaga externa”. Todas as onze cadeiras seguem o rito dos arts. 84, XIV, e 101, parágrafo único.
Destituição de ministros: vitaliciedade com responsabilidade
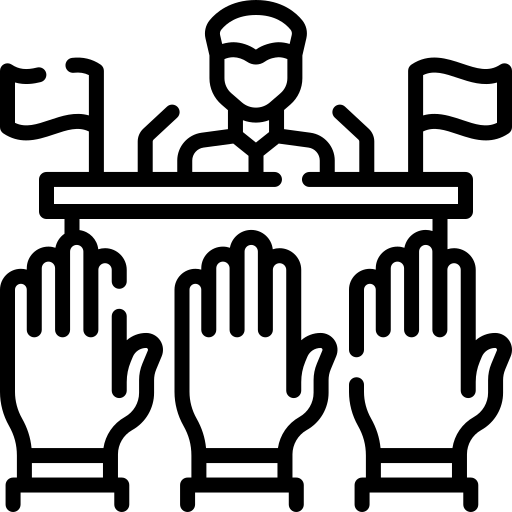
Se a nomeação combina escolha política e aprovação parlamentar, a destituição segue caminho ainda mais rigoroso. Ministros do STF gozam de vitaliciedade, só podendo perder o cargo em duas hipóteses: sentença judicial transitada em julgado ou condenação em processo por crime de responsabilidade.
A Constituição Federal, em seu art. 52, II, atribui ao Senado Federal competência privativa para processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. O regime jurídico detalhado consta da Lei nº 1.079/1950, diploma que permanece integralmente vigente e regula minuciosamente o rito processual.
Crimes de responsabilidade
Quais condutas configuram crimes de responsabilidade? O art. 39 da Lei 1.079/1950 tipifica cinco comportamentos:
Primeiro: alterar, por qualquer forma (exceto via recurso), decisão ou voto já proferido em sessão do Tribunal. Protege-se aqui a coisa julgada interna e a segurança jurídica. Mudanças de voto são legítimas antes da publicação do acórdão, mas alterações posteriores — salvo pelos meios processuais adequados como embargos de declaração ou ação rescisória — caracterizam crime de responsabilidade.
Segundo: proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Tutela-se a imparcialidade judicial. Ministros impedidos ou suspeitos que deliberadamente atuem em processos onde deveriam se declarar impedidos cometem infração político-administrativa grave.
Terceiro: exercer atividade político-partidária. A vedação protege a independência judicial e a imparcialidade institucional do Judiciário. Ministros do STF não podem filiar-se a partidos, fazer campanha eleitoral, participar de atos partidários ou exercer qualquer atividade incompatível com a neutralidade política exigida pela função.
Quarto: ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Trata-se de negligência grave e reiterada. O descumprimento ocasional ou falhas pontuais não configuram o tipo, que exige desídia manifesta, evidente, que comprometa significativamente o funcionamento da Corte.
Quinto: proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro das funções. Cláusula geral que abrange condutas que, embora não tipificadas especificamente, violem o padrão ético-institucional esperado de ministros do STF.
Adicionalmente, o art. 39-A (incluído pela Lei 10.028/2000) prevê que o Presidente do STF também responde pelos crimes de responsabilidade do Presidente da República (art. 10 da Lei 1.079/1950) quando por ele ordenados ou praticados no exercício da Presidência da Corte.
Processo de responsabilização: cinco fases até o julgamento final
A Lei 1.079/1950 estrutura rito processual complexo, que pode ser sistematizado em cinco fases principais:
Fase 1 — Oferecimento da denúncia: Qualquer cidadão pode denunciar ministro do STF perante o Senado Federal (art. 41). A denúncia deve ser assinada com firma reconhecida, acompanhada de documentos comprobatórios ou declaração de impossibilidade de apresentá-los, com indicação de onde podem ser encontrados. Havendo prova testemunhal, o denunciante deve arrolar ao menos cinco testemunhas. A denúncia só pode ser recebida se o denunciado ainda não tiver deixado definitivamente o cargo (art. 42).
Fase 2 — Juízo de admissibilidade: Recebida pela Mesa do Senado, a denúncia é lida em sessão e despachada a comissão especial, que tem 48 horas para se reunir e 10 dias para emitir parecer sobre se a denúncia deve ou não ser objeto de deliberação (art. 45). O parecer vai ao plenário do Senado, sendo aprovado por maioria simples (art. 47). Se rejeitado, os papéis são arquivados. Se aprovado, abre-se prazo de 10 dias para o denunciado apresentar resposta (art. 49).
Fase 3 — Juízo de procedência: Após a resposta (ou decurso do prazo), a comissão emite novo parecer, agora sobre a procedência ou improcedência da acusação (art. 51). Esse parecer é submetido ao plenário, também por maioria simples (art. 54). Se o Senado julgar improcedente, arquiva-se o processo. Se julgar procedente, produzem-se efeitos imediatos: (a) suspensão do exercício das funções até sentença final; (b) sujeição a acusação criminal; (c) perda de um terço dos vencimentos até sentença final (art. 57).
Fase 4 — Instrução processual: O denunciante oferece libelo acusatório e rol de testemunhas; o denunciado oferece contrariedade e rol de testemunhas (art. 58). Os autos são remetidos ao Presidente do STF (ou seu substituto, se ele próprio for o acusado), que presidirá a sessão de julgamento (art. 59). As partes e testemunhas são notificadas para comparecer (art. 60).
Fase 5 — Julgamento: O Senado se reúne sob a presidência do Presidente do STF. Após leitura do processo, inquirição de testemunhas, debates orais e discussão entre senadores, procede-se à votação nominal. Os senadores respondem "sim" ou "não" à pergunta: "Cometeu o acusado o crime que lhe é imputado e deve ser condenado à perda do seu cargo?" (art. 68). A condenação exige dois terços dos votos dos senadores presentes. Em caso de condenação, o ministro é imediatamente destituído, podendo ainda ser inabilitado para exercício de qualquer função pública por até cinco anos (art. 68, parágrafo único, e art. 70).
Trata-se de procedimento rigoroso, com dupla proteção institucional: além da vitaliciedade (que impede exoneração administrativa), a destituição por crime de responsabilidade exige quórum qualificado, assegurando independência judicial mesmo diante de pressões políticas conjunturais.
Como isso cai na sua prova: questão simulada e comentada
Questão inédita (estilo FCC):
O Presidente da República indicou Maria, advogada com 42 anos de idade, mestre em Direito Constitucional, para ocupar vaga no Supremo Tribunal Federal. Após sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, o nome foi aprovado pelo plenário daquela Casa por 43 votos favoráveis. Meses após tomar posse, Maria foi denunciada perante o Senado Federal por suposto exercício de atividade político-partidária. O Senado, por maioria simples, reconheceu a procedência da acusação.
Considerando exclusivamente as normas constitucionais e a Lei nº 1.079/1950, é correto afirmar que:
(A) A indicação de Maria deveria respeitar o sistema do quinto constitucional, com lista tríplice formada pelo STF e encaminhada ao Presidente para escolha.
(B) A aprovação por 43 votos é insuficiente, pois a nomeação de ministros do STF exige aprovação por dois terços do Senado Federal.
(C) O reconhecimento da procedência da acusação por maioria simples produz como efeito imediato a suspensão de Maria do exercício das funções e a perda de um terço dos vencimentos até sentença final.
(D) Para que Maria seja efetivamente destituída do cargo, será necessária condenação por dois terços dos senadores presentes em sessão de julgamento presidida pelo Presidente do STF.
(E) A denúncia por exercício de atividade político-partidária não configura crime de responsabilidade segundo a Lei 1.079/1950, devendo ser processada como crime comum perante o próprio STF.
GABARITO: Alternativa D.
Justificativa detalhada:
A alternativa A está incorreta porque o quinto constitucional (art. 94, CF) não se aplica ao STF. Não há lista tríplice nem participação do Tribunal na indicação. A composição do Supremo é inteiramente livre, mediante escolha direta do Presidente da República.
A alternativa B está incorreta porque a aprovação pelo Senado exige maioria absoluta (41 dos 81 senadores), conforme art. 101, parágrafo único, da CF. Os 43 votos obtidos por Maria superam amplamente esse requisito. O quórum de dois terços é exigido apenas para a condenação final no processo por crime de responsabilidade, não para a aprovação da nomeação.
A alternativa C está incorreta porque descreve os efeitos do art. 57 da Lei 1.079/1950, mas se equivoca quanto ao momento em que esses efeitos se produzem. A suspensão e a perda de um terço dos vencimentos decorrem do juízo de procedência da acusação (quando o Senado decide que a acusação procede e deve ser julgada), mas o enunciado menciona apenas que houve reconhecimento de procedência "por maioria simples", sem esclarecer se foi o juízo de admissibilidade (art. 47) ou o juízo de procedência (art. 54). Tecnicamente, ambos exigem maioria simples, mas somente o segundo produz os efeitos do art. 57. Contudo, a alternativa se torna imprecisa por não especificar corretamente a fase processual.
A alternativa D está correta. Segundo o art. 68 da Lei 1.079/1950, a condenação definitiva exige dois terços dos votos dos senadores presentes em sessão de julgamento presidida pelo Presidente do STF. Somente com essa condenação é que Maria será efetivamente destituída do cargo (art. 70). Antes disso, mesmo que tenha sido reconhecida a procedência da acusação, ela permanece formalmente investida no cargo (embora eventualmente suspensa do exercício das funções).
A alternativa E está incorreta porque exercer atividade político-partidária é expressamente previsto como crime de responsabilidade no art. 39, item 3, da Lei 1.079/1950. Trata-se de infração político-administrativa, não de crime comum, processada perante o Senado Federal, e não perante o STF.
Memorize para a prova
Para garantir pontos preciosos em questões sobre composição e controle do STF, grave os seguintes pontos-chave:
Requisitos para ser ministro: (1) mais de 35 e menos de 70 anos; (2) notável saber jurídico; (3) reputação ilibada. Não há exigência de carreira específica, concurso público ou tempo mínimo de atividade jurídica.
Procedimento de nomeação: (1) Indicação discricionária pelo Presidente da República; (2) Sabatina na CCJ do Senado; (3) Aprovação pelo plenário do Senado por maioria absoluta (41 votos); (4) Nomeação pelo Presidente. Não se aplica quinto constitucional ao STF.
Crimes de responsabilidade: (1) Alterar decisão já proferida; (2) Julgar quando suspeito; (3) Exercer atividade partidária; (4) Ser patentemente desidioso; (5) Agir de modo incompatível com honra e decoro.
Processo de destituição: (1) Qualquer cidadão pode denunciar; (2) Juízo de admissibilidade por maioria simples; (3) Juízo de procedência por maioria simples, com efeitos de suspensão e perda parcial de vencimentos; (4) Julgamento pelo Senado sob presidência do Presidente do STF; (5) Condenação exige dois terços dos senadores presentes, resultando em destituição imediata.
Diferenças fundamentais: STF não tem quinto constitucional; não há lista tríplice; aprovação exige maioria absoluta (não dois terços); condenação por crime de responsabilidade é julgada pelo Senado (não pelo próprio STF).
Quer saber quais serão os próximos concursos?
Confira nossos artigos para Carreiras Jurídicas!



